A rua como espelho: o abandono que nos reflete
Precisamos lançar um olhar atento e comprometido sobre a realidade dos moradores de rua em Bragança Paulista.
Antes de tudo, é preciso afastar qualquer leitura moralista ou ideológica que os responsabilize por sua condição. Este texto não se alinha à retórica punitivista que, sob o disfarce de ordem e progresso, desumaniza e marginaliza ainda mais aqueles que já vivem à margem. Ao contrário, parte de uma vivência concreta – tanto profissional quanto afetiva – que me permite refletir com sensibilidade e responsabilidade sobre esse fenômeno social.
O crescimento da população em situação de rua nas cidades brasileiras não é um acaso, tampouco uma falha individual. É expressão direta das contradições do modelo neoliberal, que transforma sujeitos em números e vidas em mercadorias. Nesse contexto, o desemprego, o rompimento de vínculos afetivos ou a perda de um ente querido não são apenas eventos pessoais – são gatilhos que, somados à ausência de políticas públicas eficazes, podem levar ao adoecimento psíquico, à dependência química e à ruptura com o tecido social.
A rua, portanto, não é apenas um espaço físico. É o último refúgio de quem foi sistematicamente excluído dos direitos mais básicos. E é também um espelho incômodo da nossa sociedade, que prefere ignorar o sofrimento a encarar suas próprias falhas estruturais.
Trabalhar nesse problema é enfrentar uma estrutura social que insiste em invisibilizar os que não se encaixam na lógica produtivista. É reconhecer que a rua não é apenas um espaço físico, mas um território simbólico onde se desenham as fronteiras da exclusão. Os moradores de rua não são apenas vítimas de suas circunstâncias individuais, mas também de um sistema que falha em garantir o mínimo existencial: moradia, saúde mental, vínculos afetivos e dignidade.
Em Bragança Paulista, como em tantas outras cidades médias brasileiras, o fenômeno da população em situação de rua revela tensões entre o crescimento urbano e a ausência de políticas públicas eficazes. A cidade se expande, os condomínios se multiplicam, mas os abrigos continuam escassos, os serviços de assistência social sobrecarregados e a abordagem estatal muitas vezes se limita à repressão ou à higienização dos espaços.
A sociologia urbana nos ensina que o espaço público é palco de disputas simbólicas. Quem pode ocupar a praça? Quem tem o direito de existir à vista? Os moradores de rua desafiam essa lógica ao reivindicar, com seus corpos e histórias, o direito de permanecer. E isso incomoda. Incomoda porque nos obriga a encarar o fracasso coletivo de uma sociedade que normalizou o abandono.
Não basta oferecer sopa ou cobertores em noites frias – embora isso seja necessário. É preciso pensar em políticas de cuidado, em redes de acolhimento que não sejam apenas paliativas. É preciso escutar essas pessoas, entender suas trajetórias, suas rupturas, seus desejos. Porque ninguém escolhe viver na rua como projeto de vida. A rua é quase sempre o último recurso de quem foi expulso de todos os outros lugares.
Portanto, falar dos moradores de rua é falar de nós mesmos. É falar da cidade que queremos construir, dos valores que queremos cultivar e da coragem que precisamos ter para enfrentar a desigualdade com humanidade e compromisso político.
Paulo Felipe Bressane Cruz é professor, licenciado em Pedagogia pela FAAT.
***
Siga o JORNAL EM DIA BRAGANÇA no Instagram: https://instagram.com/jornalemdia_braganca e no Facebook: Jornal Em Dia
Receba as notícias no seu WhatsApp pelo link: https://chat.whatsapp.com/Bo0bb5NSBxg5XOpC5ypb9D
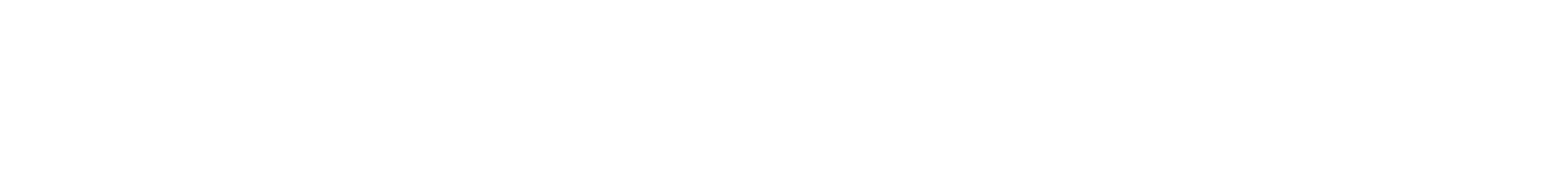






0 Comentários